O mau tempo não perdoa. As marés “produziram inundações desastrosas na foz do
Douro e nas praias de Ovar”. A água avançou com “força espantosa” sobre a
Ericeira, arrombando muros. “Há anos que não chega a tão grande altura”. Em
Torres Vedras, “em algumas povoações marítimas têm havido sinistros”. Algumas
pessoas foram arrastadas pelas ondas. Na Costa da Caparica, os pescadores
ficaram mais de um mês sem sustento “porque o mau tempo não os tem deixado
pescar”.
Quem lê estas
linhas pensa que se referem a este Inverno de 2013-2014, marcado por sucessivas
tempestades e um rasto de estragos pelo país. Mas não: são relatos e notícias do
século XIX. Houve pelo menos 148 episódios associados a tempestades de vento,
segundo um levantamento realizado por investigadores do Centro de Estudos
Geográficos da Universidade de Lisboa.
E, em grande
medida, são uma cópia do que se continua a assistir no país: inundações nas
zonas costeiras, casas destruídas pelo mar, ondas que varrem pessoas, árvores
caídas nas cidades, construções afectadas. “As consequências é que podem ser
piores, porque a pressão humana agora é maior”, diz Maria João Alcoforado,
co-autora do estudo, juntamente com David Marques e António
Lopes.
Olhar para as
tempestades do século XIX é uma das várias linhas do KlimHist, um projecto
envolvendo quatro universidades – de Lisboa, do Porto, de Évora e de
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) – que pretende reconstituir o clima em
Portugal nos últimos 350 anos. O projecto vai a meio e alguns resultados
preliminares são apresentados esta segunda-feira na UTAD.
O ponto de
partida é 1645, o ano em que começa um período de actividade solar muito baixa,
conhecido como Mínimo de Maunder. Para um passado tão distante, não há senão
registos meteorológicos indirectos. Os anéis de crescimento de centenários
carvalhos-alvarinhos (Quercus rubor) da Mata Nacional do Buçaco estão a
ser analisados para estudar a precipitação desde o século XVII. Descrições
feitas por um mercador holandês do século XVIII, Inácio António Henkell, estão a
ajudar na reconstituição das cheias do Douro. Há também estudos sobre a evolução
da temperatura a partir de furos no solo ou sobre a aplicação de modelos
climáticos para simular eventos meteorológicos extremos no
passado.
A
escala de Franzini – As informações
sobre as tempestades de vento no século XIX vêm sobretudo de uma fonte: os
registos sistemáticos de Marino Miguel Franzini (1779-1861), um dos pioneiros da
estatística e da meteorologia em Portugal. Em 1815, Franzini começou a fazer
anotações sobre o clima, a pedido do médico Bernardino Gomes, intrigado com a
mortalidade elevada durante os verões. Deixou duas séries de dados, de 1815 a
1826 e de 1836 a 1859, com informações sobre o estado do tempo, a temperatura, o
vento, as tempestades.
Os
investigadores do projecto KlimHist traçam um paralelo da escala utilizada por
Franzini para medir a força do vento com a desenvolvida pelo almirante britânico
Francis Beaufort mais ou menos na mesma altura. Beaufort baseou a sua escala no
estado “visível” do mar – o tipo e tamanho de vagas, se formavam “carneirinhos”
ou se rebentavam, a concentração de aerossóis no ar ou de espuma sobre a água, a
visibilidade. Para cada combinação de sinais era atribuído um grau – de 1 a 12 –
associado a uma velocidade estimada do vento.
A escala de
Beaufort tornou-se muito popular, mas Franzini, embora também servisse na
Marinha, não a utilizou. “É estranho que não a conhecesse”, afirma António
Lopes, um dos co-autores do estudo. Desenvolveu antes a sua, primeiro com quatro
níveis, posteriormente com seis.
Os dados que
deixou permitiram traçar, agora, uma primeira cronologia de eventos
meteorológicos extremos no século XIX. Juntando outras fontes documentais, como
notícias de jornais da época, os investigadores contabilizaram 148 tempestades
associadas a ventos fortes nesse período. Três em cada quatro estavam
relacionadas com ventos de Sul ou Sudoeste e a maior parte ocorreu nos meses de
Inverno (Dezembro, Janeiro e Fevereiro).
É uma primeira aproximação, num trabalho cujo
objectivo é ir preenchendo as lacunas de conhecimento do passado climático do
país. “Quando se fazem reconstruções de clima na Europa, falta sempre informação
de Portugal”, afirma Maria João Alcoforado, que coordena o projecto
KlimHist.
Registos históricos de alguns fenómenos naturais dão
informações preciosas para trabalhos deste tipo. No Japão, há documentos com as
datas precisas da festa da floração das cerejeiras pelo menos desde o século XI.
“Isto permitiu reconstituir a temperatura da Primavera ao longo de séculos”, diz
Maria João Alcoforado. Na Europa Central e do Norte, registos dos dias em que
canais e rios congelaram também dão pistas para compor a meteorologia do
passado.
Para o Sul da Europa, são os eventos extremos que mais
ficaram na memória através de documentos escritos. “Quando são coisas fortes,
sempre aparecem em algum lado”, afirma Alcoforado.
Um exemplo é o das catastróficas tempestades que
varreram o país de 3 a 6 de Dezembro de 1739. Relatos eclesiásticos, manuscritos
e impressos permitiram reconstituir parte do que aconteceu nesses dias em vários
pontos do país – Porto, Coimbra, Santarém, Lisboa, Évora, Montemor-o-Novo e
Cuba.
Uma fonte essencial são dois poemas que registam em
1740, em verso, a tragédia do ano anterior. O cónego Martinho Lopes de Morais
Alão, por exemplo, escreveu sobre o Porto: “Corria o Douro taõ arrebatado/Taõ
rápido, cruel, e taõ valente/Que parecia vinha declarado/Inimigo de todo o ser
vivente”. E sobre Coimbra, escreveu Manoel José Correa e Alvarenga: “Vay o Monda
correndo arrebatado/Aqui cazas, alli plantas quebrando/Se a huns leva as alfayas
desbocado/Da mesma vida a outros vay privando”.
Ricardo Garcia
* * * * * * * * * *
Fonte: PÚBLICO
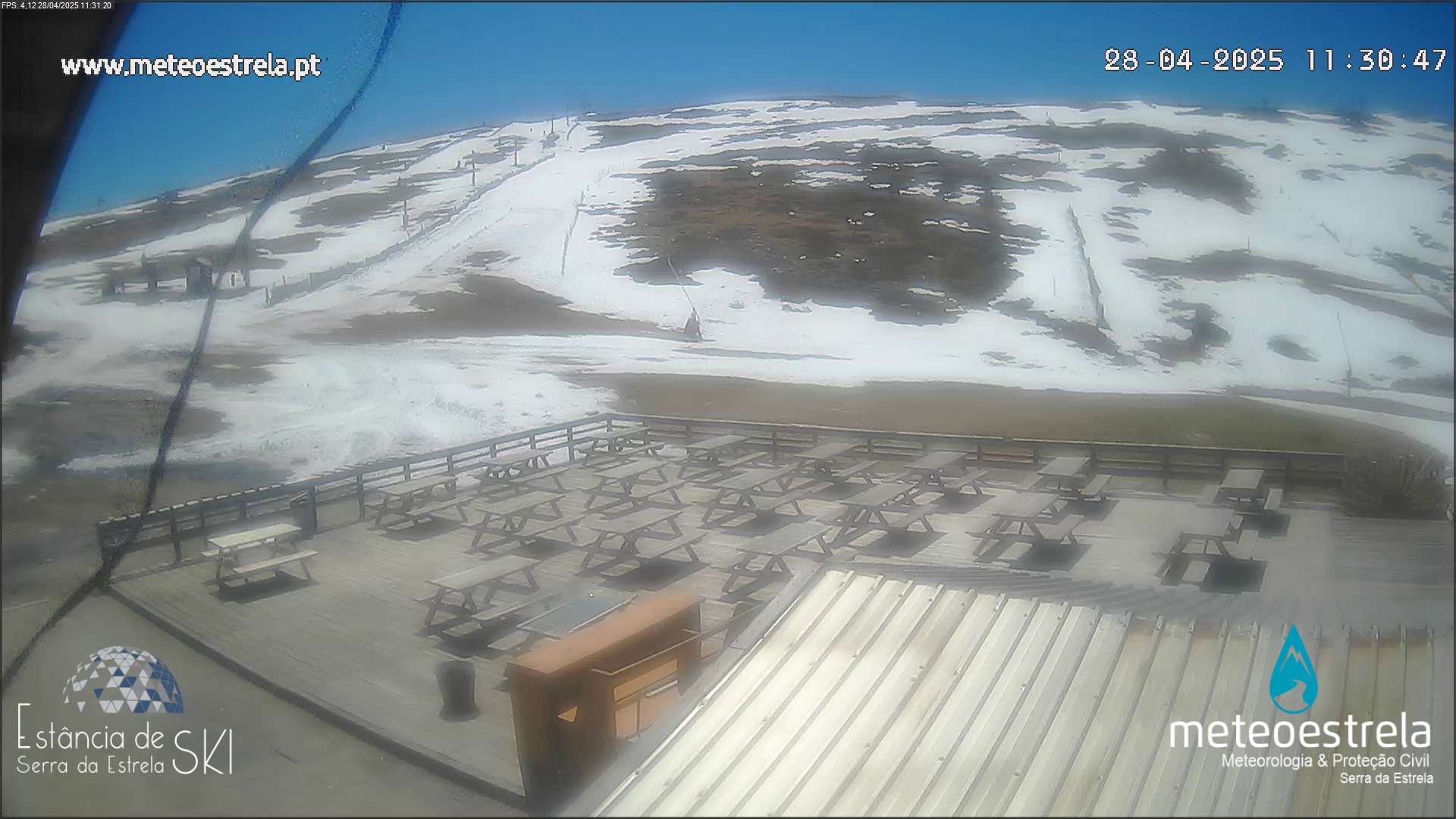
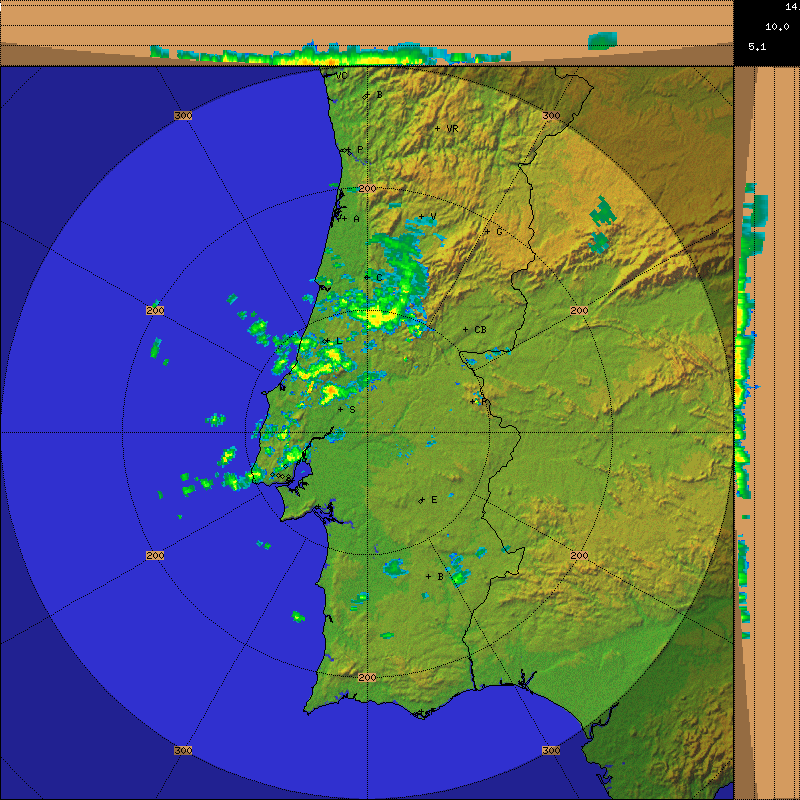


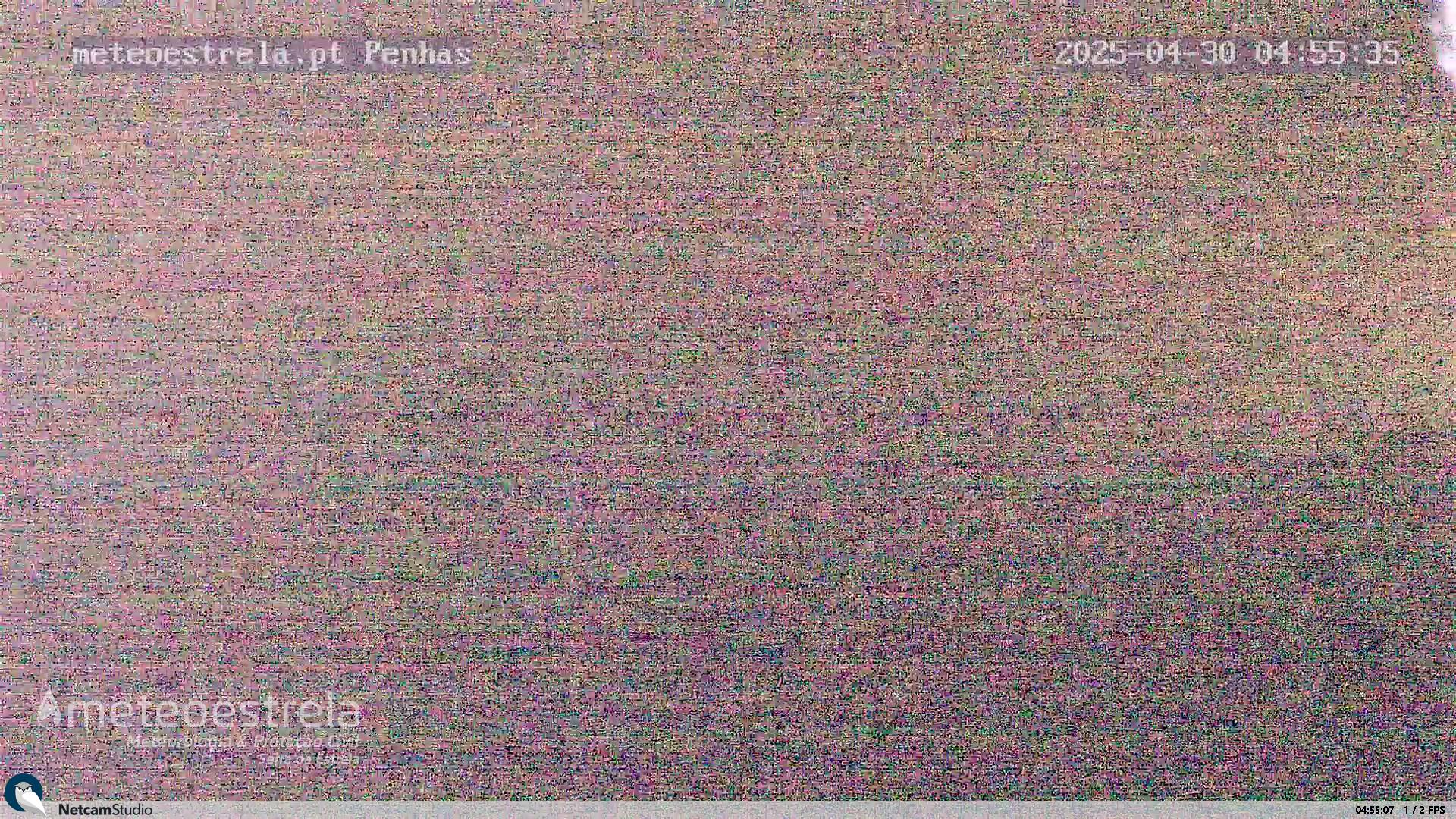

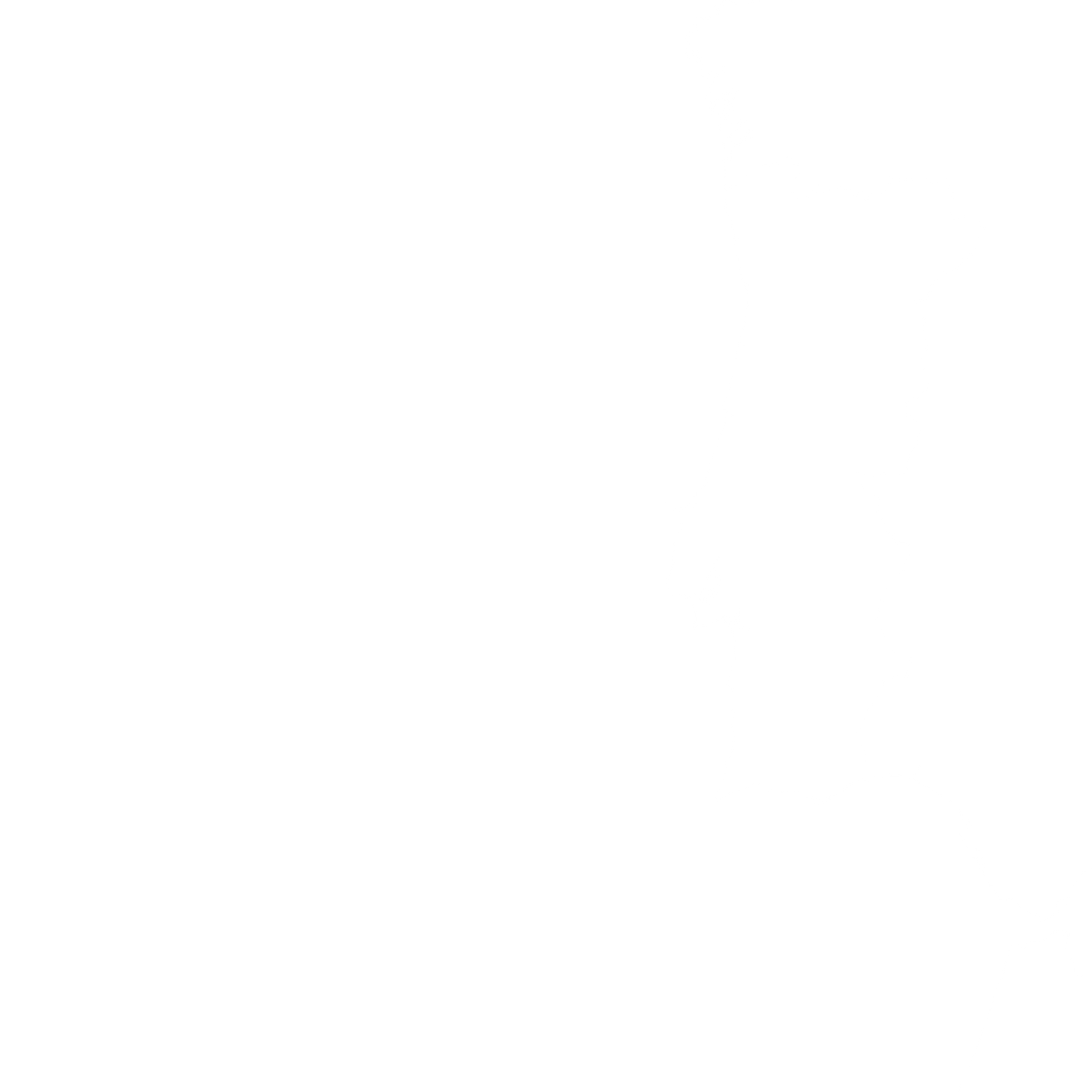











Sem comentários:
Enviar um comentário