(Eduardo Gageiro)
Com a ajuda do
pai, subiu para o guarda-vestidos e ergueu-se até ao telhado, graças ao vizinho
que, em seu auxílio, partira algumas telhas para a deixar sair. Atrás dela foi
a irmã Graça, de 6 anos, e a mãe, que carregava no colo um bebé de seis meses,
o último dos oito filhos. Há horas que não parava de chover. Tanto que o
pequeno rio da Costa, o estreito braço do Trancão onde todos os dias iam buscar
água para se lavarem, transbordara subitamente, engolindo muitas das barracas
da zona. A casa onde moravam duas irmãs de Guilhermina era das que ficavam mais
próximas do rio. Guilhermina chamava por elas o mais alto que conseguia, mas os
apelos perdiam-se no meio de tantos outros.
Destruição. A enxurrada matou famílias
inteiras. Mas ninguém até hoje sabe dizer o número total de vítimas
Eduardo Gageiro
“Ouvia-se um
barulho que parecia de metralhadoras. Era o som das casas a partirem-se e a
desabar. E ouviam-se muitos gritos. ‘Acudam, acudam’. Depois os gritos passaram
a gemidos. E ficaram cada vez mais sumidos até não se ouvir mais nada”, recorda
Guilhermina, hoje com 66 anos.
Depois de muito
tempo de escuridão, uma lanterna deixou finalmente ver a desgraça que só os
estrondos e os gritos deixavam adivinhar. O longo foco de luz tinha um alcance
de quase 200 metros, distância que separava Guilhermina e os outros
desesperados que pediam ajuda aos impotentes bombeiros que não os conseguiam
salvar. Entre uns e outros, erguera-se uma torrente de dor e morte feita de
lama e destroços que tornava impossível o resgate.
“Já estava a
ficar muito fraca de tanto gritar quando vi, ao longe, o foco de luz, que
corria o bairro todo. Só aí é que conseguimos ver a altura da água e a
destruição. Os bombeiros gritavam para termos calma. Diziam: ‘Agarrem-se, nós
já vamos buscar-vos’. Mas não vinham. Não podiam acudir-nos por causa da tromba
de água. E nós começámos a perder as forças”.
José Marques,
então com 31 anos, estava do outro lado da luz. Era ele que segurava a
lanterna. “Víamos as casas e ouvíamos as pessoas a gritar. Víamos a luz das
velas ou dos candeeiros a petróleo lá dentro e as casinhas a ir com a água.
Pareciam barcos. A maior parte desapareceu com a corrente. Famílias inteiras a
irem pelo rio abaixo e eu sem poder ir lá salvá-los. Se fôssemos para dentro de
água tínhamos ido também. Não podíamos fazer nada. Era deixá-los ir”. O
bombeiro do quartel de Odivelas não conteve as lágrimas na altura. Nem as
sustém agora, 50 anos passados, ao recordar a noite trágica de 25 para 26 de Novembro
de 1967.
A chuva que
naquele sábado caíra ao longo de todo o dia na região de Lisboa e Vale do Tejo
transformou-se em dilúvio ao anoitecer. Entre as 19h e as 24h choveu cerca de
um quinto de toda a precipitação média anual. Em minutos, rios e ribeiras
galgaram os leitos, ruindo prédios, desabando casas, derrubando pontes, aluindo
enormes massas de terra e arrastando com impiedosa violência tudo o que havia
pela frente.
A enxurrada
matou famílias inteiras. Como a família Garrido — Adelino, de 43 anos, e
Amélia, de 36, e os cinco filhos de 2, 5, 7, 9 e 10 anos, que moravam na Quinta
da Quintinha, na Póvoa de Santo Adrião. Ou a família Madureira — José e Maria e
a filha Conceição, de 9 anos, em Ribeira de Lage, Oeiras. Ou Maria do Céu
Patrocínio, mãe solteira de Alice, de 4 anos, e Maria de Jesus, de 1, que com ela
morreram em casa, na Venda Nova (Amadora). Ou os três irmãos Bártolo — Carlos,
de 3 anos, Graça de 2, e a bebé Paula de 3 meses, na aldeia de Lopas, em
Sintra. E uma lista de centenas de outros nomes que até hoje ninguém sabe dizer
onde termina.
“Foi o desastre
natural de maior dimensão que tivemos em Portugal a seguir ao terramoto de
1755”, explica o geógrafo e investigador da Universidade do Minho Francisco
Costa.
A ditadura nunca
permitiu que se soubesse o número exacto de mortos. A censura entrou em acção
praticamente desde o primeiro momento para evitar que a comoção geral se
transformasse numa crítica política ao regime de Salazar. Logo a 27 de Novembro,
um telegrama da Direcção da Censura frisava que era “conveniente ir atenuando a
história”. “Urnas e coisas semelhantes não adianta nada e é chocante. É altura
de acabar com isso”. Dois dias depois, a ordem dada aos jornais era mais
concreta: “Os títulos (das notícias) não podem exceder a largura de meia página
e vão à censura” e não era permitido fazer referência “ao mau cheiro dos
cadáveres”.
A contagem dos
mortos foi suspensa poucos dias após a tragédia. Os últimos números oficiais,
publicados nos jornais no início de Dezembro, davam conta de 462 vítimas
mortais. Depois disso, muitos corpos continuaram a aparecer. Nas conservatórias
dos concelhos mais afectados, como Loures e Odivelas, há dezenas de atestados
de óbito de pessoas mortas na enxurrada que só foram encontradas muito tempo
depois da última contagem. Algumas até em Janeiro. E muitas outras terão ido
parar ao Tejo e nunca chegaram a aparecer.
“Há vários
estudiosos que apontam para 700 mortos. Outros dizem que foram mais de 500.
Será um número entre esses dois valores. Infelizmente, não é possível saber”,
lamenta o geógrafo.
Não foi a chuva, foi a miséria – Naquela noite, grande parte de Lisboa ficou inundada. A água irrompeu pelo Cinema Éden, nos Restauradores, obrigando os 150 espectadores que assistiam ao filme na plateia a refugiarem-se no balcão. Tiveram de esperar até à uma da manhã para serem socorridos pelos bombeiros, que chegaram à sala em barcos de borracha. Na Baixa, na Avenida da Liberdade, na Praça de Espanha, em Campolide, na Avenida de Ceuta e em muitos outros locais só se passava de barco. Apesar da violência do dilúvio, só houve registo de três mortos nos bairros residenciais da cidade. E nenhum na zona abastada do Estoril, onde se atingiu o valor máximo de precipitação.
Foi nos bairros
de lata à volta de Lisboa, como a Urmeira (Loures) ou a Quinta do Silvado
(Odivelas), erguidos clandestinamente pelos que fugiam à miséria do campo, que
a desgraça mais se abateu. E nas zonas pobres dos concelhos a norte da capital,
como Vila Franca de Xira, Alenquer ou Arruda dos Vinhos. Sem saneamento básico
nem canalizações, construíam-se barracas ou pequenas casas de adobe o mais
perto possível de rios e ribeiras, de que as populações dependiam diariamente
para ter água. Um dia, mais tarde ou mais cedo, o pior haveria de acontecer.
Era uma tragédia anunciada.
Apesar da
censura, o “Comércio do Funchal”, lido sobretudo pela juventude mais
politizada, apontou directamente o dedo às causas sociais da catástrofe, que o
regime forçara a atribuir exclusivamente à fatalidade natural. “Nós não
diríamos: foram as cheias, foi a chuva. Talvez seja mais justo afirmar: foi a
miséria, miséria que a nossa sociedade não neutralizou, que provocou a maioria
das mortes. Até na morte é triste ser-se miserável. Sobretudo quando se morre
por o ser”.
Como muitos dos
que moravam nos subúrbios de Lisboa, ou em grande parte do país, Manuel Júlio
dos Santos nascera assim. Com a pobreza colada à vida como o apelido se cola ao
nome. Tinha 10 anos e já trabalhava numa carpintaria, a apanhar do chão aparas
de madeira a troco de dois tostões por dia, para ajudar a mãe a criar a irmã, quatro
anos mais nova. Os três viviam na Ponte de Frielas (Loures), uma das zonas mais
atingidas pelas inundações, numa casa baixa e escura de uma única janela, tão
pequena que não cabiam duas camas. O rapaz tinha de dormir colado ao teto, num
sótão apertado onde não se podia pôr de pé. Foi esse sótão, improvisadamente
construído, que os salvou naquela noite.
Pobreza. Foi nos bairros de lata
erguidos clandestinamente à volta de Lisboa pelos que fugiam à miséria do campo
que a desgraça mais se abateu
Eduardo Gageiro
“Foi uma coisa
de segundos. Foi como se tivesse rebentado uma piscina e a água saiu toda.
Vinha água, lama, bocados de madeira que batiam contra os muros. Ouvíamos
animais a gritar e carros a serem arrastados e a bater nas paredes. E ouvíamos
os gritos horríveis da Dona Bárbara a morrer afogada”, recorda Manuel, hoje com
59 anos.
Se Emília não
tivesse acordado segundos antes, a menina e a mãe não teriam sequer tido tempo
de se levantar. Como os 14 homens que morreram na taberna ao fundo da rua.
Foram encontrados no dia seguinte, com os corpos feitos estátuas de lama, na exacta
posição em que se encontravam no momento em que o Trancão transbordou: sentados
a jogar às cartas nas mesas de madeira onde passavam as noites a beber.
Manuel, Emília e
a mãe esperaram toda a noite que a água baixasse para conseguirem saltar do
sótão. “Quando saímos era o horror. Havia galinhas, vacas e porcos mortos que
tinham sido trazidos pela água. Lembro-me de um autocarro de pernas para o ar,
todo cheio de lama e ainda com as pessoas lá dentro. Havia carroças, troncos de
árvores caídas, pessoas mortas, carros virados ao contrário. E muitas pessoas
sem nada, algumas inclusivamente nuas”, descreve.
Durante três
dias ninguém apareceu para ajudar quem tudo perdera. Nada restava das hortas
que antes cresciam junto às casas. Nem dos animais que criavam para comer.
Naquela zona todos se tinham habituado a enganar o estômago com caldos
engrossados a farinha e fatias de pão duro cobertas de bolor. Mas depois da
tragédia a fome apertou ainda mais. “Ao início, não tivemos auxílio nenhum.
Havia umas quintas aqui para cima que não tinham sofrido nada e íamos lá roubar
laranjas. Só assim conseguimos comer alguma coisa”, recorda.
O despertar político – A inoperância do regime perante a tragédia e o abandono das populações deixaram chocados os mais de seis mil estudantes universitários que se envolveram numa enorme campanha de auxílio às vítimas das cheias, organizada conjuntamente pela Juventude Universitária Católica (JUC) e pela Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. Quando, no dia 29, se puseram a caminho das zonas mais atingidas, os jovens estavam longe de imaginar que, três dias após a catástrofe, estava quase tudo por fazer. Ainda havia corpos caídos nas ruas e nas casas, árvores, animais e gente soterrados no chão.
Organizados em brigadas, estudantes universitários de Lisboa, Porto e Coimbra, e muitos ainda do Liceu, distribuíram diariamente mais de mil sacos de comida à população, vacinaram milhares de pessoas contra a febre tifóide e ajudaram a lavar a roupa, a esfregar o chão e a limpar as casas. Em muitas estavam ainda gravadas nas paredes e no teto marcas das mãos de homens, mulheres e crianças que, em desespero, haviam tentado alcançar o telhado para se salvar.
Perda.
Manuel, a criança que se vê na fotografia publicada na “Life Magazine”,
refugiou-se no sótão durante toda a noite, com a mãe e a irmã, à espera que a
água baixasse. “Quando saímos era o horror”
foto Terence
Spencer/The LIFE Picture Collection/Getty Images
Para alguns
estudiosos da história portuguesa contemporânea, “as inundações de 1967 tiveram
mesmo um papel tão importante na consciencialização política do movimento
estudantil em Portugal como Maio de 1968 teve depois no movimento estudantil
mundial”, diz a historiadora Irene Pimentel, que, à época, então finalista do
liceu, também participou na campanha de solidariedade. “Foi o momento-chave que
marcou o divórcio pleno dos estudantes com o regime”.
A ditadura fez
de tudo para os afastar das acções de socorro à população. No Vale do
Carregado, a GNR chegou mesmo a investir sobre os estudantes e, no Rossio, um
grupo de jovens de capa e batina que se encontrava a fazer um peditório a favor
das vítimas foi detido pela polícia por distúrbios à ordem pública.
A censura tinha
ordens para cortar muitas das notícias que davam conta da solidariedade dos
alunos. A conferência de imprensa que os estudantes organizaram para denunciar
a “impreparação e desorganização dos organismos sociais e sanitários do
Governo” e a existência de “condições de vida miseráveis em várias localidades
do país” foi silenciada. “Compareceram jornais portugueses e alguns
correspondentes estrangeiros. Os jornais portugueses não publicaram nada, mas
no estrangeiro saíram notícias. Em resultado disso, toda a direcção da
Associação de Estudantes foi convocada para ir prestar declarações à PIDE”, conta
Armindo Fernandes, então vice-presidente da Associação de Estudantes do
Técnico.
Com medo das
repercussões no exterior, a polícia política apertou o controlo sobre as
agências noticiosas estrangeiras que acusava de estarem a publicar peças
tendenciosas sobre a forma como o Governo estava a lidar com a catástrofe. “Os
correspondentes estrangeiros foram chamados para interrogatório e alguns foram
mesmo expulsos do país”, conta Irene Pimentel.
Ainda assim, a
notícia da tragédia chegou a toda a Europa, gerando um movimento de
solidariedade internacional. Chegaram donativos da rainha de Inglaterra, do
príncipe Rainier do Mónaco e até do general De Gaulle, que fez chegar uma
“dádiva pessoal” de 30 mil francos.
“Foi um grande
escândalo no exterior. As inundações pioraram a imagem de um país que já era
mal visto porque tinha uma guerra colonial que não terminava. E, além de tudo
mais, era um país que não cuidava dos seus próprios cidadãos”, lembra a
historiadora.
A “aldeia mártir” – As imagens de bairros inteiros convertidos em cemitérios de lama correram o mundo pela lente de fotógrafos de prestigiadas revistas internacionais como a “Life Magazine” ou a “Paris Match”. O caso de Quintas, a pequena povoação de Castanheira do Ribatejo (Vila Franca de Xira) que naquela noite perdeu quase 100 dos seus 156 habitantes, foi dos que causaram maior comoção.
A morte chegou à
“aldeia mártir” às 01h50 da madrugada. Era o que marcava o relógio parado no
pulso da menina encontrada no dia seguinte completamente nua a boiar no rio. Faltavam
poucos dias para Teresa fazer 15 anos. Estava a dormir em casa dos avós quando
o Rio Grande da Pipa se fez largo e revolto como o mar, engolindo quase toda a
aldeia. Salvaram-se os que viviam na encosta. Na parte mais baixa não restou
quase ninguém.
Perda.
Guilhermina e o filho junto à casa prefabricada que a família recebeu dois anos
após a tragédia
Eduardo Gageiro
Luísa, irmã mais
nova de Teresa, tinha 13 anos. A enxurrada levou-lhe a irmã, os avós e mais 27
tios e primos. Numa aldeia pequena, quase todos eram aparentados. Naquela
manhã, entre o silêncio dos mortos e o choro dos vivos, Luísa tornou-se mulher
adulta. Vestiu-se de preto da cabeça aos pés, tapou o cabelo com um lenço e foi
forçada a assumir o governo da casa dos pais, que sucumbiram à dor.
“A minha mãe
ficou completamente sem saber fazer nada. Passava as noites inteiras a chorar e
de dia só queria estar no cemitério. Eu tive de crescer e ser mulher à força”,
recorda Luísa Fajardo, hoje com 63 anos. Na altura não se falava em depressão,
muito menos em ajuda psicológica. Feitos os enterros e findos os trabalhos de
limpeza, os poucos habitantes que sobreviveram às cheias ficaram entregues a si
próprios, sozinhos numa terra enlutada pelo infortúnio.
“O negro
permaneceu na aldeia muitos anos. Oito ou dez, pelo menos, tanto nos homens
como nas mulheres. Conforme o tempo passava, maior era a saudade. Nós a querer
fazer a nossa vida, a casar, a ter filhos, a ter netos, a querer compartilhar
isso e a não ter com quem. Ninguém conseguiu ultrapassar, nem mesmo ao fim de
50 anos”.
O pequeno largo
da aldeia que antes era o centro do convívio da comunidade tornou-se o retrato
do seu desalento. Toda a parte baixa do Lugar das Quintas foi considerada zona
inundável e foram proibidas novas construções. As pequenas casas térreas onde
tantos morreram na cama estão hoje ao abandono ou foram transformadas em
oficinas e arrecadações.
“Aqui, onde
agora funciona uma oficinazita que está aberta aos fins de semana, morava a
irmã da minha mulher, mais um filhote de nove anos e o marido. Ficaram os três
lá dentro. Ao lado, moravam os tios da minha mulher. Ficaram lá os dois. Aqui
em frente havia uma viúva mais uma filha de 17 anos. Também ficaram lá as duas.
A seguir outra viúva, que morreu também. Nesta terrinha pequena, morreram 93.
Ficámos muito poucos”, conta Joaquim Rodrigues, hoje com 88 anos, apontando,
uma a uma, com a voz embargada, as casinhas do largo.
Joaquim
lembra-se todos os dias do que aconteceu. E todos os dias os olhos se lhe
enchem de lágrimas. Vivia com a mulher e o filho de 11 anos naquele mesmo largo,
numa dessas frágeis casas de adobe, com um único quarto. O rapaz já dormia no
sofá da sala quando, pela meia-noite, o casal se foi deitar. A mulher, ou
“camarada” como sempre lhe chamou, olhou pela janela. Chovia muito. “Ainda bem
que estamos todos abrigados”, comentou. Pouco depois, a água irrompeu pela
porta. “Ai, nossa senhora, o que é isto?”, gritou a mulher. Foram as últimas
palavras que lhe ouviu.
“A minha mulher
levantou-se rápido para ir buscar o candeeiro a petróleo e nunca mais a vi.
Agarrei o moço, consegui pôr uma mão na greta que faltava para tapar a porta e
lá conseguimos sair os dois. Nesse momento, a água já estava mais alta do que a
porta e ajudou-nos a subir para o telhado. Tirei três ou quatro telhas para ver
se ia buscá-la, mas a água já ia até ao sótão. Pensei: ‘O que é que lá vou
fazer? Ela já está morta’. Era tanta lama e tanta lenha, tanto lixo e tanta
coisa que ela não teve hipótese”.
Joaquim e o
filho ficaram agarrados a um barrote do telhado até amanhecer, enregelados e
molhados até aos ossos numa noite fria e escura de Novembro. Passado algum
tempo, os últimos gritos calaram-se. “Ficou até um sossego. O que é que
interessava estar a gritar? Já não havia solução”.
Nessa altura, a
40 quilómetros de distância, Guilhermina também esperava em cima do telhado.
Também ali os gritos tinham dado lugar a gemidos e tinham ficado cada vez mais
sumidos até não se ouvir mais nada. A rapariga de 16 anos, grávida de seis
meses, já tinha perdido as forças quando a água baixou e, já de manhã, os bombeiros
puderam finalmente ir resgatá-la. Levaram-na inanimada para o Hospital de Santa
Maria, em Lisboa. Foi lá que soube que as irmãs e o sobrinho tinham morrido.
fotos arquivo
nacional da torre do tombo, jornal “o século” (provas de corte)
Censura.
Fotografias de “O Século Ilustrado” que a ditadura não deixou publicar. O
“lápis azul” actuou desde o primeiro momento para evitar que a comoção geral se
transformasse numa crítica ao regime
fotos arquivo nacional da torre do tombo, jornal “o século” (provas de
corte)
Acompanhados de
vários vizinhos que serviram de testemunhas, os pais de Guilhermina foram à
Misericórdia buscar o bebé. Mas não os queriam deixar levá-lo. Não porque
duvidassem de que era deles, mas porque já havia casais “de doutores e
engenheiros” dispostos a ficar com ele e a dar-lhe uma vida que a família, que
já era pobre e ainda perdera tudo, nunca lhe poderia proporcionar.
A mãe de
Guilhermina bateu o pé e conseguiu trazer o menino. Já tinha perdido duas
filhas, não o perderia também a ele. Sem teto, roupas ou mobília, a família
ficou a viver com vizinhos durante dois anos, enquanto aguardava que lhes fosse
dada uma casa, no novo bairro da Urmeira, construído de raiz para os
desalojados das cheias.
Mas nem o
milagre os resgatou da escuridão daquela noite. A mãe continuou a “gritar de
noite e de dia” pela morte das filhas. O pai, que já bebia, afogou-se cada vez
mais no álcool. E o filho de Guilhermina nasceu em Abril com problemas
neurológicos que os médicos atribuíram ao trauma vivido na gravidez, de que ela
nunca recuperou.
Guilhermina
dispôs-se a trabalhar de noite e de dia para sair do bairro. Não aguentava as
recordações. A mudança, no entanto, não lhe aliviou a memória. Ainda hoje não
dorme com a chuva e tem pavor da água. Na praia não se aproxima do mar e
recusa-se a pôr os pés num barco. A tragédia vem-lhe constantemente à cabeça,
como se nunca tivesse saído do cimo daquele telhado. “Eu também era para morrer
naquele dia. Não teve de ser, mas é uma sobrevivência de luta”.
Não morreu nas
cheias, mas naquela noite escura a vida deixou de ter luz.
*Com Joana
Beleza e José Pedro Castanheira
* * * * * * * * * *
Fonte: Expresso








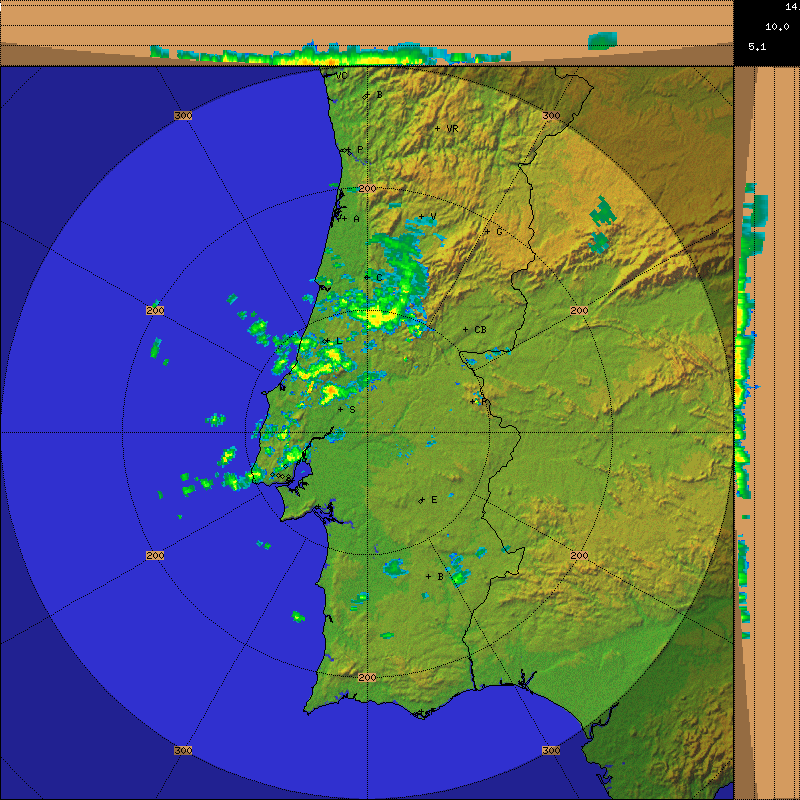


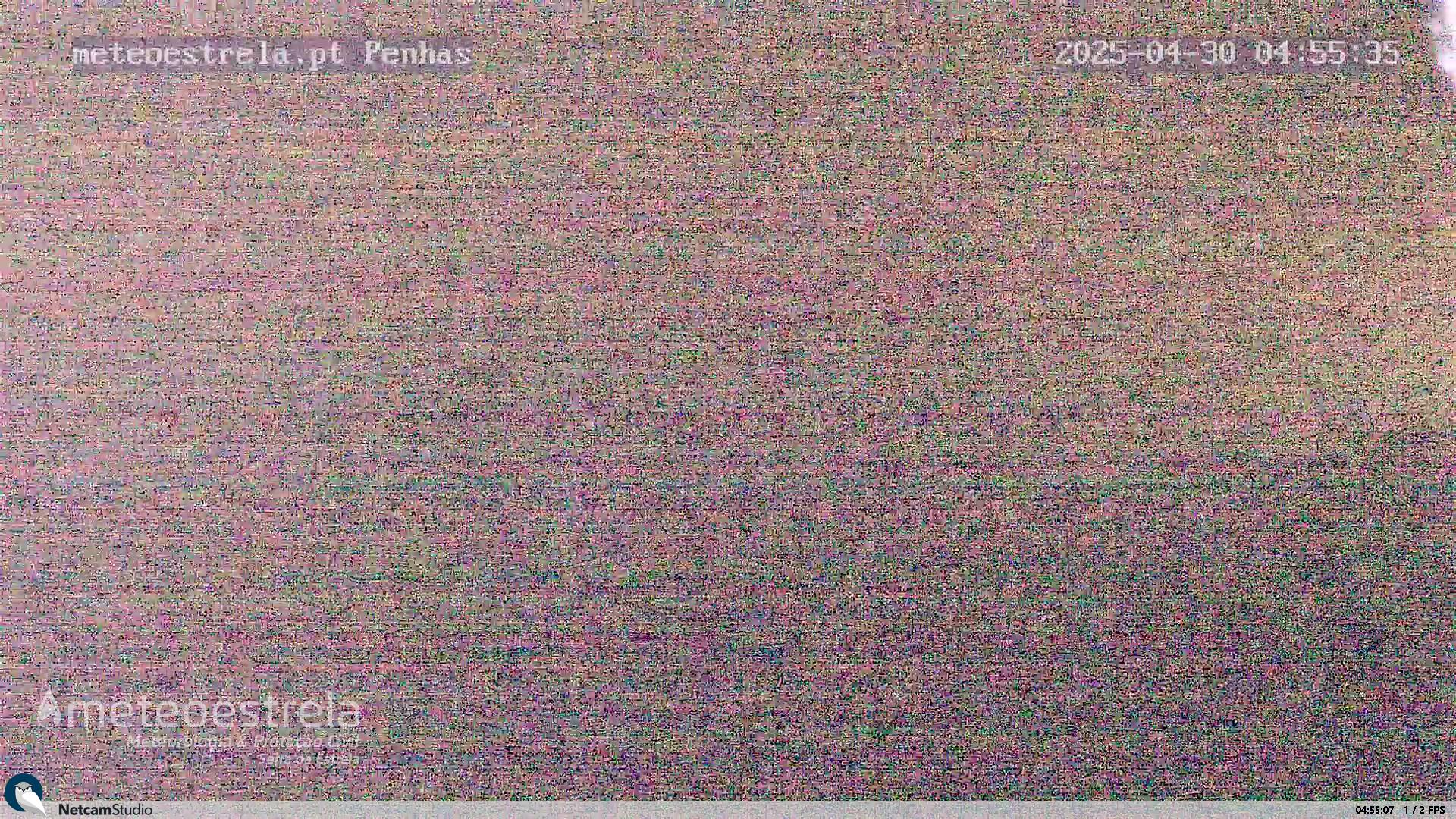













Sem comentários:
Enviar um comentário